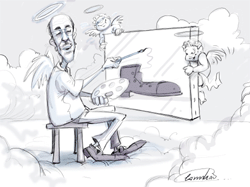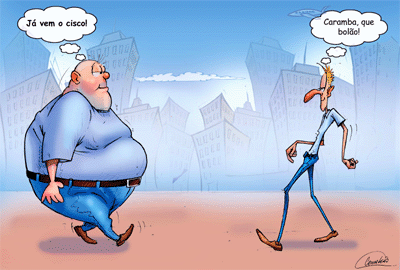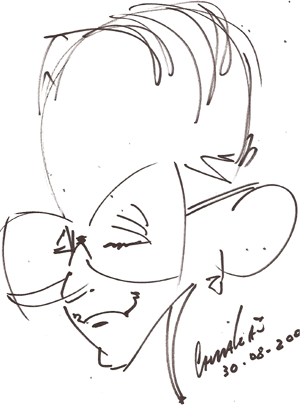| Jornal
Aldrava Cultural |
||
| Especial
- Aldravismo |
poesia
Minas, onde
Geraldo Reis (publicado no Jornal Aldrava Cultural – maio/2001- n° 06)
Ó meus burros meus de carga rara
O que levais, irmãos, o que trazeis
Em vossas almas de burros
Humanas e brabas?
Em vossos ventres
Rotos alforjes de ontem, hoje e amanhã?
O que levais?
O que trazeis?
Ouro para o agouro?
Traves para o touro?
Brocados para o Conde?
Ó meus burros meus,
Minas
é
onde?

O QUE SERÁ DE MIM
Luiz Tyller Pirolla (publicado no Jornal Aldrava Cultural – maio/2001- n° 06)
O que será de mim
Quando tudo
acabar
e eu
reencontrarAqueles que
eu nunca
aqui
encontreiE antes
nesse breve
tempoQue vai daqui
a um lugar
determinado
e
ignorado
por mimComo me
proteger
para chegar
inteiro
e só então
me desfazer?Não sei
e vou
absolutamente
sem entenderO imenso
mistério
de haver
estrelas no céuE pessoas
que existiram
antes de mimE mesmo
que existiram
antes de mimE mesmo
remotamente
algumQue pode
ter sido
eu

Revivendo os passos da cruz
J.S.Ferreira (publicado no Jornal Aldrava Cultural – abril/2001- n° 05)
O sino da Catedral
reluz,
ante o olhar sombrio
das estrelas.Há um forte cheiro de incenso
pelos ares.Pelas ruas estreitas e seculares,
uma imensa procissão de velas:
segue em passos lentos
os ritos dos ancestrais,
levando o Corpo de Cristo,
revivendo os Passos da Cruz!

desencurvando o arco-íris (I)
gabriel bicalho (publicado no Jornal Aldrava Cultural – abril/2001- n° 05)
I
meu poema moderno
nem trocou o seu terno
de 22
II
meu poema concreto
argamassou
todo o alfabeto
III
meu poema práxis
veloz como um táxi
atropelou a sintaxe
e acabou sem gasolina
em pleno plano (plenário)
IV
meu poema vanguarda
trajou sua farda
pois que a liberdade
inda fora tardia
V
meu poema social
virou comunista
e sumiu do mapa
sem deixar uma pista
VI
meu poema “underground”
transgredindo leis
e traficando drogas
sofreu voz de prisão
VII
meu poema processo
que mal foi processado
encontra-se arquivado
nos bureaus burocráticos
dos brasil varonil
VIII
meu poema cartaz
promoveu passeata
reivindicou salário
fez discurso de otário
e como coisa chata
deve ir pro penico
de qualquer deputado
IX
meu poema das metas
minha metapoesia
perdeu todas as retas
e ficou sem poesia
X
meu poema protesto
amanhã saltará
do viaduto do chá
(exatamente às 5 da tarde:
hora oficial da academia?)
por absoluto desencanto
com a poesia/
literatura/literatice/
chatice internacional!

Soneto das crimpas groufas
J. B. Donadon-Leal (publicado no Jornal Aldrava Cultural – jan./fever/2002- n° 13)
Das crimpas groufas do auféu ronfir
bronfam prescas ferfes de alestás trus
e aos cris langóis mais pampéis eu grus,
cantende, pesdrufo em buféu glonfir.Blambi rofez: – Quá lanã sez laxi?
Aufente e pécrio na candefa zonze
tás condir de alandê zanzã paxi,
denquanjo em bléns duá to minã minonge.Mir! Ziá glingléu pandeia mercã,
aucofa lante a pandiar zonzás
marmante, lingüente ao glingir fer cã.Mir! Blinhá pinféu tum guidar fengás
qualifegante a mirmintar tufã
das crimpas groufas ferfo em mirminás.

Alvíssaras
Lázaro Francisco da Silva (publicado no Jornal Aldrava Cultural – março/abril/2003- n° 24)
Quando
a pequena frota portuguesa
entrou em mar mais raso
lá no mastro
da nau capitânea de Cabral
ouve-se um grito:
“Terra a prazo!”

Sociedade dos Poetas Mortos
Andréia Donadon Leal
Mofo
impregna
narina.
A linguagem
está no final!
Afunda
no fundo
:
buraco
úmido
cheio de ratos.
A linguagem
viva
pura
bela
parte
linhas
e
frases
fora de moda.
Pobres versos
jogados
adormecidos...
Pobres!
Estante empoeirada
vergada
de mortos...
Amor
ficado
de último jeito.
Amor
careta
e
brega,
recitado
pela menina.
A linguagem
encolheu...
Não a poesia!
Não à poesia!
A vista embaça:
– Mal aprendi a ler
boi
bia
ivo
ovo
uva...
E os poetas?
Morrem.
Não a poesia!
Não à poesia!

conto
Transa do sapo Jordão
Camilo Leal
A Gia Chiva, bem casada com o Sapo Jordão, tem seu casebre confortável no barro da lagoa. Vem uma crise danada de frio, e a mosquitada vai embora. É preciso apertar o cinto para viver. O sapo Jordão começa a reclamar:
- Gia Chica, você está muito extravagante.
- Não diga isso, Sapo Jordão; você nunca foi assim!
- Gia Chica, escute o que estou lhe dizendo. Você limpa camarão, tirando perna, bigodes... não aproveita, esperdiça muito! Desse jeito morro de trabalhar e nunca ajunto nada na minha vida; vamos ficar sempre na miséria... As coisas tudo caro, pela hora da morte. Não dá mais para viver em companhia de uma gia sem futuro. Nessa noite vou abrir o pé no mundo.
- Não faça isso, Sapo Jordão. É muito feito para nós casar e separar. E ainda nesta lagoa. Tem muito sapo metido a bacana e atrevido. Sabendo que estou só em casa, ele vêm tirar casquinha. Tenho medo...
Não tem jeito. O sapo Jordão sai mesmo de sua casa e escreve uma carta de divórcio.
Gia Chica recebe a carta por mãos de um portador, o Grilo, e garra a ler, e cai. É resultado da ira, é resultado da dor.
O sapo Jordão, vagando por terras alheias, tenta transar com uma aranha na teia.
- Bela Aranha Marília, to aí na sua teia?
- Dê o fora, Sapo Jordão. Sou uma aranha solitária, mas tranqüila, Tenho meus recursos próprios.
- Bela Aranha Marília, minha barriga está no fundo. Descole-me um mastigo. Eu e você na sua teia. Nós dois juntinhos será bem melhor. Mande-me um fio; quero subir.
- Vá embora, sapo rabugento! Atente suas gias lambuzadas de barro.
O Sapo Jordão, envergonhado, pensa em desistir. Dá dois pulos para trás, pára, estira as pernas, abre a boca, espreguiça, limpa os olhos e olha novamente para a aranha; enruga a testa, fica carrancudo, estufa a barriga e o pescoço – fica empapuçado. Pula para cima da cadeira; depois, de uma mesa; salta em cima de um rádio velho e em seguida de um armário e dele derruba um litro meio de mel que se espatifa, sujando o piso. Sapo Jordão se ajeita em um xaxim de samambaia no canto da cozinha da velha Madame Luzia.
A velha Madame Luzia, preocupada com a pulga no cós da saia, que ferroa aqui e acolá, vê-se sem poder pegá-la. Suspende a barra e com as pontas dos dedos consegue esmagar a pequena grande perturbadora.
Ao estrondar do litro quebrado, sua cara cai no chão. Mais do que depressa, envergonhada solta a saia rendada que de repente cobre as pernas de pele fina e branca. Observa o litro quebrado, mel derramado. Olha os quatro cantos da cozinha e a casa em geral, sem sucesso. Começa a enculcar, falando com um personagem invisível.
- Pois faz hoje um amo que meu segundo marido morreu, por motivo de alguma discórdia em nosso passado. Pode ser que sua alma precise de alguma oração.
Ajoelhada a velha e com mãos postas, levantadas aos céus, ora. Como ato de fé e devoção derrama uma caneca de água na samambaia e prossegue:
- Talvez, meu marido, sua alma esteja com sede e precisa de beber.
O Sapo Jordão é muito caloroso – e de fato faz calor de quarenta graus – e com aquela caneca d’água fresca, cristalina em sua cabeça, ele pega em alma nova, regala os olhos, abre a boca e estira a língua; estufa o peito, a costa... e fica contente com o refrescar.
Continua a velha Madame Luzia a falar com seu personagem:
- Vou catar os cacarecos do litro quebrado e limpar a meleca do mel derramado, mas estou muito preocupada com isso.
O Sapo Jordão, bem agasalhado no xaxim da samambaia, tem a bela Aranha Marília bem perto do seu bigode, mas não pode alcançá-la, pois ela não permite que ele se aproxime de sua teia. E ele fala:
- Sabe o que vou fazer, bela Aranha Marília. Veja: faz dias que estou aqui perto de você e não consigo me aproximar porque aquela velha não descuida da cozinha.
- Não faça nada, Sapo Jordão. Eu alarmo e você será assassinado. Deixe-me quieta em minha casa.
- Eu faço sim, num pique. Quando ela vier pôr água na samambaia, vou fazer-lhe uma surpresa que ela ficará cega; nessa oportunidade solto para sua teia.
A velha Madame Luzia chega com a caneca d’água, tranqüila, assobiando a música do hino da sua igreja. Com a mão esquerda abre e ajeita as folhas da samambaia, com a direita coloca água.
O Sapo Jordão, bem humorado, na boa, estufa a barriga, fecha a boca, afirme bem as duas mãos no enchimento do xaxim, levanta sua parte traseira e lasca uma violenta urinada no meio da cara da velha. O chuá-chuá atinge frontalmente os dois olhos da mulher que grita desesperadamente:
- Meu Deus dos céus! Coisa ardida nos meus olhos! Vou ficar cega.
Bem depressa o Sapo Jordão solta na teia da formosa e bela Aranha Marília. Abraça-a, beija-a, calorosamente, mas ela abre a boca do mundo.
A velha Madame Luzia escuta aquele horroroso barulho no teto, no canto da cozinha e observou o mais completo agarramento sem-vergonha-aranha e sapo – que o mundo jamais viu coisa igual. Dá-lhe uma vassourado no pé-do-ouvido do Sapo Jordão, que ele caiu com uma perna quebrada. Mas, em seguida, ele foge. E a aranha tem sua teia vasculhada e queimada pela velha.
O Sapo Jordão, com uma perna quebrada, perambula em terras alheias, sem leito, sem bastão, sem socorro da ortopedia e com dores cravadas. A gangrena chega e nesse meio de tempo sua perna seca. Mas, o Sapo Jordão continua a andar só com três pernas.
Na caminhada passa por perto de uma tapera e um cachorro vira-latas, valente caçador de ratazanas, dá-lhe três mordidas; joga-o para cima de uma jaqueira. Ao se despencar de lá, caiu dentro de um poço velho. É o fim do Sapo Jordão.
crônicaChão de cimento encerado
Andréia Donadon Leal
Sem contestações, destino. Virar poeira cósmica, lixo ou alimento de vermes. Incorruptível tropa de mortais. Os acordes sinfônicos que tocam nos ouvidos acariciam, o Réquiem k.626, mozartiano, para ninar a marcha fúnebre. Que melodia é esta? Ora lírica, ora austera. “Réquiem aeternam dona eis, Domine”. Descanso! Exigente ou simplesmente imbecil. Asseverações. Transparecer certo esgotamento de viver nem quatro décadas. O corpo brada: descanso. Exaustão triplicada com afazeres inúteis. Comer todo tempo. Sentir saudade da criança que andava descalça pelas ruas de Itabira afora, arrastando o casco grosso que protegia a sola dos pés. Gargalhar com piadas sem graça. Sentir falta de si mesmo. Levantar da cama de solteiro, esticar o lençol, dobrar a coberta e colocá-la no guarda-roupa. Do cheiro de café passado na cozinha pequena de um pai com caneca cheia, mão esticada e sorriso tímido nos lábios. Pai é assim mesmo. Passa café todas as manhãs e tardes. Infeliz quem não tem a caneca repassada. Hoje distante, longe e cansado. A saudade bate forte; rever a cena e sentir o cheiro. Sentir falta da casa desarrumada de manhãzinha. De vassoura na mão varrendo pacientemente os cômodos empoeirados e sujos com fios de cabelos embolados nos ciscos. Encher o balde de água com desinfetante e amaciante. Passar pano no chão de cimento grosso. Vez ou outra, vontade de chegar perto do pai e pedir um chão de madeira para encerar. Música estridente e incompreensível. Ora movimentar as ancas com a vassoura na mão ou fingir tocar guitarra. Bobagem, quanta bobagem! Mãe fala: passa cera vermelha no cimento que o chão ficará colorido e pare de dar este xouzinho patético. E era verdade mesmo. O chão da casa era vermelho encerado e escovado. Em casa de escovão sem uso, escondido no porão. Sentir saudade das brincadeiras dos irmãos ainda crianças, que quase estoura as veias do coração de tanto sentir. Cresceram e envelheceram, uns de cabelos grisalhos, rugas fincadas no canto dos olhos e da boca e dobras no pescoço. Os sobrinhos que crescem numa fração de tempo. Sentir saudade da árvore de natal montada na sala de casa e bolas metálicas e estrelas coloridas e bilhetes pregados. Do sapatinho de crochê que só mães de outrora faziam para cada filho colocar na janela no dia de Natal. Era pequeno o sapato, as mães diziam. Por quê? Porque Papai Noel tem que presentear todas as crianças do mundo. Um presentinho para cada menino. Saudade da música que saía da vitrola e os meninos dançando e pulando no cômodo, pai e mãe mirando amorosamente as peripécias das crias. Sentir falta dos dias chuvosos, com relâmpagos estourando trovões nos ouvidos e a criançada agarrada na barra da saia da mãe. Sentir falta em andar de mãos dadas com os irmãos pela rua em dias de domingo e do cheiro de broa de fubá com canela ou pudim de pão. Dos ralhos e beliscões da mãe e do pai, quando chegava em casa depois da hora. Sentir. Filho que sente falta do pai a acordá-lo cedo para ir à escola e das histórias da avó. Até da imbecilidade e falta de maturidade adolescente. Da crise nervosa das meninas quando chega à primeira regra, como dizem ainda algumas mães. Das horas conversando com colegas de escola sobre o primeiro e gosmento beijo; da festa de quinze anos e febre da onda das debutantes. Será que ainda existem debutantes? Crise de adolescentes, sim. Falta da falta de experiência, do primeiro emprego, da primeira entrevista. Até da primeira transa, primeiro contato com sexo, adolescente, menina ainda: traumatizante, dolorido e às pressas num banco de carro. Uma experiência a mais ou a menos. Sorte ou falta. Não importa, pouco importa. Memoráveis incidentes ou melhor acidentes. Não vem ao caso, catastrófico. Sentir falta de não pensar muito, não querer mais, mais, muito mais e ainda mais. O caminho sem retorno. Se tivesse... Um chão de cimento grosso para encerar e outra música para ouvir, que não o Réquiem K.626.
Manifesto Aldrávico
(a caravela vazia de gabriel bicalho)
J. B. Donadon-Leal
Esta primeira manifestação aldrávica busca apresentar ao público a proposta aldrávica de fazer poético. Sem a pretensão de superar tendência alguma, esta proposta busca aproveitar todas as portas discursivas abertas pelo pós-modernismo, muito embora este tenha ainda privilegiado o texto. Mas, dos textos saltam discursos heterogêneos, e é justamente esses discursos que nos interessam. Trata-se de saber usar os textos devolutos. Na verdade, todos o são, pois o texto nada mais é do que um envelope, dentro do qual colocamos os discursos. Discursos são fluxos de idéias que habitam as cabeças dos sujeitos caminhantes, ditando os passos, as condutas, as manifestações todas da atividade humana. São uma espécie de alimento da alma, e ditam as condições de produção dos fazeres sociais e, conseqüentemente, culturais. Alimentam novos discursos, realimentam-se de novidades e possibilitam a geração ininterrupta de idéias. Tomar todo e qualquer texto, moderno, concreto, livre, preso, longo, curto é, para o aldravista, um motivo para tematizar qualquer discurso com a audácia dos pedintes – batendo à porta.
Batendo a porta dos discursos estão alguns nomes da poesia em Mariana. Destaco o recém-premiado no Festival da Livro Aberto, Leopoldo Comitti, com seus aldrávicos poemas em Fundo Falso e Por mares navegados; J. S. Ferreira com sua Bateia lírica; Lázaro F. Silva, com seus poemas avulsos e a sua produtiva tematização da cultura popular, L. T. Pirolla, Geraldo Reis, Hebe Maria, eu e, claro, Gabriel Bicalho, aquele de Criânsia (1974), já a “falar de peixes e de algas, quando nada fala”, de exercícios de poesia, a quem incumbo a responsabilidade de bater primeiro a aldrava na porta dos fecundos discursos amorfos, pedindo forma, pedindo cópula, para fecundarem novos corpos discursivos que perderão a forma e clamarão por novos rituais de acasalamento.
Se o mar de Fernando Pessoa é a representação do distanciamento dado às glórias de Portugal, numa tentativa desesperada de retorno ao impossível, queda-se a “mensagem” ao mar bravio a engolir o moderno saudosista, oxímoro de apontar o futuro, olhando para trás; ser novamente glorioso e conquistador como outrora o foi o Português. O mar de Gabriel Bicalho, porém, é abrigo da ventura de velejar no mar das palavras, às vezes, de alguns fonemas, discretos e silenciosos. “Branca vela a cara vela brinca de leva-e-traz atrás de fonemas num mar de palavras”.
Os 20 poemas que compõem a série marinha de Caravela Vazia (1996), livro ainda inédito de Gabriel Bicalho, trazem a possibilidade de se arriscar, de fato, a velejar muito além da pós-modernidade. É aldrávico esse Gabriel. Observador, sim, mas não só espectador. Aí ele traça a diferença que lança a aldrava na poesia. Bater, bater, bater, até que alguém venha abrir a porta do sentido que se deseja.. Nada ensimesmado, nada autista, nada fora de contexto como os pós-modernistas de academia. O elitista “espectador atento” é chamado a sair da clausura ditada pelo imperialismo cultural das abraliques, das uebês, das academias, das congressites dos homens e mulheres de capa preta das ifes e ieés, para se popularizar, sem transformar-se em bunda, e dedicar-se a “ouvir o mar no marulhar ou ver o mar ao mar olhar”.
Embora sem pretender superar qualquer tendência, a superação desse autismo criado pelo endeusamento do sujeito pós-moderno, desinstitucionalizado para ser servido pelas instituições, é inevitável, e pode ser pensada na inconveniência de batidas insistentes das aldravas nas portas imperiais, que não se abrem para as cabeças interioranas, mas que, por não se abrirem, distanciam-se tanto do mundo em movimento, aldrávico, de batidas renitentes, de movimentos de corpos em rituais de acasalamento, que não há como dizer mais em revisitar o passado, como querem os umbertos, em parodiar ou ser interlocuções de minorias, ou ver somente o texto e o intertexto. O aldravismo é discursivo e interdiscursivo. O discurso da cartilha escolar dos anos 60, da insistência silábica da família “ra - ré - ri - ró - ru”, toma o discurso da incerteza do futuro do pretérito, para construir o discurso das possibilidades ramificadas, próprias do reconhecimento das vozes polifônicas dos discursos: “ramaria / remaria / rimaria / romaria / rumaria”, num conjunto de substantivados coletivos, ecos polifônicos das navegações dáblio-dáblio-dáblio. É a superação do texto. É a compreensão do mundo dos discursos como negação da pretensiosa idéia de interpretação. É o reconhecimento da precisão dos discursos heterogêneos: cabeça e bunda, Saramago e Coelho, Chico e Tcham, Nélida e Bianca, Jô e Carla, Rio e Ribeirão, urbes e sertão. Branco não é branco, preto não é preto. Preconceito não é preconceito. O discurso pode ser branco ou preto ou os dois ao mesmo tempo; como o discurso do preconceito pode tornar o branco preto e o preto branco. Isto é, literatura não é literatura, mas literatura pode ser literatura, dependendo da vontade de canonização. (Parece que a última atividade da academia é a vontade.) Nela, não há vontade de compartilhar discursos. No máximo, a de receber discursos e dizer-se porta voz autorizado dos discursos canonizados, ou lugar de canonização. Independente disto, o discurso faz, desfaz e refaz; alimenta, realimenta e se alimenta de discursos, numa forma de antropofagia que cuida de cevar a espécie, para se fartar dela.
Mas, é preciso ainda compreender-se como sujeito. A questão é transformar a atitude autista pós-moderna em prática de meditação. Não se trata de auto-ajuda, embora esta faça parte do clamor social deste início de milênio. Trata-se de olhar para si, no intuito de construir-se no discursos que serve, altera comportamentos, perlocutoriamente. Cada prática de meditação atinge o caos, para recobrar o rumo do barco à deriva. O piquete das corda do ancoradouro está no peito do outro. Reconhece-se o valor da convivência. “No cais ou no caos mergulho em mim mesmo / e agora ancoro em teu peito (porto perfeito) meu barco à deriva.
Essa atitude de mover-se na resistência do outro, levantar-se de si na força do peito do outro, não requer a anulação do outro, nem impõe ao outro a condição de ancoradouro apenas, sem de longe recorrer ao pedante conceito acadêmico de alteridade, pois reconhece em si mesmo a mesma condição de suporte do outro. Ancora o outro e ancora-se no outro, promíscuo na condição de tocar e se deixar tocar, mas percebe que, mesmo na mais profunda pasmácia, “algo de alga” existe. Essa alga pega, impinge, cresce, alimenta e abriga.
O poeta aldrávico é uma espécie de invasor de terra devoluta. Vai buscar invadir os textos devolutos, disponíveis para o cultivo discursivo e “um polvo volvo meu povo e me envolvo meu ovo ao meu povo ou...” abraçar, sem pudores, os discursos de todas as tendências, acreditando pio o demônio que aquece e perverso o deus que inventou o inferno.
De qualquer forma, “como um tatuí, tatuando aqui, encafuando ali”, o aldravismo das margens do Ribeirão do Carmo já ancora suas caravelas vazias, textos devolutos, noutros portos, para invadir os discursos transgênicos da geração web.
Põe no mar a aldrávica caravela, Bicalho!
“Claro: o sol na areia clareia!”
Artes visuaisElias Layon, artista de Mariana retrata com maestria e leveza as figuras representativas da carnavalização mineira. Sua contribuição é imprescindível sobre a arte pictórica de Mariana. Esta obra emerge do mundo material e carnavalesco (cultural), com a justaposição no fundo dos quadros com cores vivas, o que impede uma mera intenção figurativa. Percebo no conjunto da obra CARNAVAL DE MINAS, a predominância de sentimentos e emoções, nas cores criadas livremente, em que o artista remete na forma e na cor, sua expressividade maior. Layon se vê livre para expressar seus sentimentos interiores, relacionando-os ou preservando-os na memória da representação do mundo real, na negação da beleza estética do homem e no coroamento da importância da existência do ser humano cultural.
Sua estrutura delicada, pouco densa e muito variável é um desafio ao pintor. Layon usa em suas telas um colorido especial, vivo e esfumaçado com pinceladas rápidas e leves que se mantêm soltas e um pouco imprecisas sobre a tela, de modo a reconstituir a sensação luminosa de uma situação passageira (duração do carnaval), experimentada sob os efeitos variáveis da luz natural. Suas figuras decompostas são dedicadas a capacidade de atravessar as fronteiras dos limites técnicos e formais, para constituir um momento fértil das relações interdisciplinares no campo da visualidade, num radical experimentalismo. A fumaça, neblina e reflexos diversos foram recursos impressionistas para a dissolução da cor e das formas rígidas estudadas sob a luz dos atêlies mais tradicionais.
Andréia Donadon Leal – Déia Leal – Pós-graduanda em Artes Visuais – Cultura & Criação
Carnaval
Carnaval 07
Carnaval 08
Carnaval 10
Camaleão caricaturista e chargista
Acerca de "martírio" - tela de Déia Leal
Augelani Maria Parada Franco
Doutora em Ciências Ambientais pela Unitau, Taubaté, SP
Pós-graduanda em Artes Visuais - Cultura & Criação

Martírio - Déia LealConhecer é traduzir algo que não se conhece em termos do que já se conhece. Nietzsche
Sua obra é muito bonita e peculiar e os lilases, violetas e azuis me fizeram ‘viajar’ pelos jardins de Monet, pelas ‘Ninpheas Azuis’ que tive o prazer de admirar de pertinho no Museu D’Orsay onde, confesso que senti até o perfume do local retratado.
Este sentimento é pura Semiótica: signos que geram signos que geram signos... O signo / imagem Ninpheas Azuis gerou meu pensamento (signo). A meu ver, ambas as coisas: agredir para acordar... E a arte se impõe para ser ‘lida’ pelos seus interpretantes, cada qual com seu ‘repertório’ cultural. O sentido de algo tem relação com seu significado, mas existem diferentes significados para um mesmo sentido.
Uma criança, ao observar sua obra (de Andréia Leal) pode se encantar com as cores frias, pode achar que é um pedaço de corda velha no fundo do mar que caiu de algum navio pirata. A explicação da obra pela autora (Andréia Leal) amplia nossa percepção (interpretantes adultos) e aponta para a crítica pretendida. Mas, mesmo assim, eu continuo vendo ninpheas, águas claras, angústia, mas também paz. Provoca em mim uma antítese mental e se fosse dar um título a esta obra seria: Última Cena, ou Última Chance, porque eu enxergo uma possibilidade de vida atrás destas amarras, enxergo um rio cristalino (ou seria o mar?), enxergo flores lilases... Pignatari (1985) diz que “o enriquecimento do interpretante gera uma capacidade de metalinguagem, ou seja, uma linguagem crítica em relação à situação e à linguagem em uso.”
Vejo quase o caos, mas existe uma bonança por detrás das amarras do tempo, buscando renascer. Existe o sim e o não, à espera da escolha.
Ainda de acordo com Pignatari (1985), o signo da arte seria um quase-signo, algo que já não é o caos mas ainda não é a ordem.
E mais uma vez Pignatari (1981): (...) “a invenção, a originalidade (informação) é vital para a ordem do sistema que buscará, por sua vez, sempre, novos estados de equilíbrio através do processo conhecido como homeostase.”Metonímias do barroco - Déia Leal
Portal Barroco
Portal Barroco Mineiro